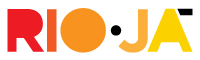Por Jan Theophilo
O anúncio de que o histórico prédio da Estação Barão de Mauá, conhecido como Estação Leopoldina, vai passar por uma reforma parcial, deixou animados cariocas e simpatizantes. Graças a um acordo entre o Ministério Público Federal (MPF) e a concessionária SuperVia, serão reformadas a gare e as plataformas da estação, que deverá ser adaptada como um centro cultural contemplando a “história do sistema ferroviário como fonte principal de conhecimento, com exposição fixa de conteúdos históricos e de dados atuais da ferrovia”.
Além de salas de aulas para atividades de música, dança, teatro e artesanato, a estação ganhará um local para apresentações e um ambiente para exposição temporária. Foi o episódio final de uma série com várias temporadas que se arrastava desde 2018 quando o MPF alertou que o prédio corria risco de incêndio e iniciou-se uma briga na Justiça.
Mas o enredo e os personagens dessa história são um tanto repetitivos. É uma mistura de entidades privadas e órgãos das esferas municipal, estadual e federal, somados a regras, normas e códigos malucos ou descabidos que se repetem e proíbem, na prática, ao carioca apreciar muito do que sua cidade tem de maravilhosa.
Vamos pegar o caso da Leopoldina como exemplo. O prédio pertence à União e ao estado do Rio de Janeiro e, pelos termos de um contrato de concessão, a SuperVia é responsável pela gare, que corresponde à área de embarque da estação, e pelo pátio com quatro plataformas de embarque inauguradas em 1926. O acordo entre as partes, obrigando a empresa a tirar o escorpião do bolso para investir na reforma, só foi possível após um longo processo judicial iniciado pelo MPF.
Outro imbróglio conhecido envolve as obras de catedral, intermináveis, da nova sede do Museu da Imagem e do Som, na Avenida Atlântica, em Copacabana. O projeto é uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado, implantado em conjunto com a Fundação Roberto Marinho. Orçado em R$ 138 milhões, ele deveria ter sido inaugurado em 2014. Mas logo que as obras começaram, em 2011, os engenheiros e calculistas descobriram que o terreno ali era frágil e exigiria grandes intervenções para sustentar um prédio tão monumental. Os construtores foram obrigados a buscar soluções e técnicas pouco correntes no país.
Com isso, vieram os consequentes atrasos. E a relação entre a construtora Rio Verde, responsável pelos trabalhos, e a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), órgão do governo que supervisionava a construção, azedou. A divergência acabou se transformando em uma ação na Justiça e a empresa abandonou o canteiro de obras,divulgando uma nota pública afirmando que “O contrato foi encerrado por fatos imputáveis exclusivamente ao Estado do Rio de Janeiro, que descumpriu o ajuste contratual”. Somente em outubro do ano passado, o governo retomou as obras e agora promete inaugurar o novo MIS até o fim do ano. Isto se outra guerra não estourar antes com relação a gestão museológica. Hoje, dividida entre três grupos: a o da Fundação MIS, o da Secretaria de Cultura, e o da Fundação Roberto Marinho.
Outro nó que não se consegue entender por que não é desatado é o do Teatro Villa-Lobos. A casa, idealizada por Adolfo Bloch e Geraldo Matheus, inaugurada em 1979, com três unidades cênicas, era tida como um dos melhores palcos da cidade. Até que as 23h de 6 de setembro de 2011, em pleno processo de reformas, um transformador explodiu, dando início a um grande incêndio. Bombeiros de quatro batalhões foram mobilizados, o que, segundo a Secretaria de Cultura à época, evitou danos estruturais no edifício. O que ninguém consegue explicar é como, 11 anos depois, não foi reaberto o teatro que acolheu grandes montagens como Hotel Paradiso, O Ateneu, As Cantoras do Rádio, Ópera do Malandro, Mary Stuart, Rádio Nacional, Peter Pan, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, Rei Lear e Senhora Macbeth, entre tantas outras.
Em 2014, um estudo da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) calculou que seriam precisos R$ 36 milhões para recuperar o Villa-Lobos. A direção da Funarj informou em nota que “encontra-se em andamento o processo licitatório para viabilizar a construção do teatro com recursos da iniciativa privada, visando entregar aquele espaço cultural o mais rápido possível à população. Ressaltamos também que, em 2016 e em 2019, foram abertas chamadas públicas para a manifestação de interesse pela reconstrução e gestão do Teatro Villa-Lobos, mas não houve interessados na época.” Dureza.
Menos burocráticos, porém não menos inexplicáveis são os casos dos lugares ao qual o carioca não pode ir, simplesmente…porque não pode. É o caso, por exemplo, dos belos e vastos jardins do Palácio Guanabara, em Laranjeiras. No primeiro mandato de Sérgio Cabral no governo do estado, até que se tentou transformar o espaço numa atração. Mas sem grande entusiasmo, nem mesmo uma programação, como acontece, por exemplo, nos jardins do Museu da República, o projeto durou poucos meses. O Rio guarda jardins na cobertura do Rubem Braga, em Ipanema, e até no topo do Edifício Gustavo Capanema, o prédio do MEC, no Centro, cujo terraço dispõe de um verdadeiro parque, que, se não serve para levar o totó para passear, poderia ser adaptado como um restaurante, ou outro projeto, que garantisse sustentabilidade econômica para a preservação daquele belo conjunto arquitetônico.
Carioca sofre até para conseguir água em dias de calor senegalês, graças a essa mistureba de atores cuidando de uma mesma coisa. Enquanto em Roma existem cerca de 2.500 fontes jorrando diuturnamente água cristalina (algumas desde os tempos do Império), no Rio a Prefeitura administra hoje 106 chafarizes, sendo que menos de 10% deles está em pleno funcionamento. “A diferença é que lá eles funcionam como rede natural, e aqui a água é cobrada pela Cedae (estadual)”, explica a arquiteta Vera Dias, há mais de 20 anos à frente de órgãos municipais de proteção ao patrimônio da cidade. Alguns casos deveriam ser tratados como verdadeiros crimes de prevaricação, como o estado de total abandono do Chafariz do Lagarto, no fim da rua Frei Caneca, pertinho do sambódromo, construído em 1783 por um certo Mestre Valentim.
Mas nada é tão inexplicável no Rio quanto as praias privativas do Exército. Sim, se você não é daqui, acredite: os militares reservaram trechos de areia de acesso permitido apenas aos militares. E, naturalmente, eles estão entre as melhores praias do pedaço. Como a Praia de Fora, que ilustra essa reportagem, bem ao lado do paredão do Pão de Açúcar. Como ela está protegida das correntes e ventos, as águas são calmas e limpíssimas (já que é uma praia oceânica), ideal para levar as crianças e farrear. Detalhe: foi nessa exata Praia de Fora que um sujeito chamado Estácio de Sá ergueu as primeiras casas que se tornariam a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o carioca não pode ir nem ao local de nascimento de sua própria cidade – a menos que o Exército lhe conceda essa gentileza, claro.
Porque não é que seja proibido, tipo assim proibido, a um reles civil pisar nessas finas areias. É possível descolar um passe. Desde que obtido após a aprovação de um requerimento, que deve ser endossado, obrigatoriamente, por um oficial superior ou general. Mas para se ter uma ideia da procura, em fins de semana ensolarados, só as praias niteroienses dos militares como a de Imbuí e a do Forte do Rio Branco recebem cerca de três mil banhistas. Existem listas de espera para conseguir o passe, que só vale por um ano e quando expira é preciso refazer todo o processo para obter a renovação. O Rio, como se vê, não é para amadores.