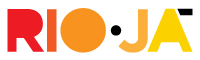Luisa Prochnik
Em frente a um conjunto de pedras, escombros revelam uma tragédia da civilização. Estar diante do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo exige respiração profunda, exige respeito, muito respeito, e reflexão. Naquele solo pisaram milhares de escravizados, africanos arrancados de suas terras e de suas famílias, vendidos como objetos no Rio de Janeiro, então capital federal do país. A história e a dor se fazem presentes. É um espaço de “memória sensível”, denominado assim pela Unesco, que deu ao local o título de Patrimônio Mundial, em 2017. Mas naquelas pedras irregulares também pisaram aqueles que traziam o que viria a ser a raíz da nossa identidade nacional, o que hoje nos faz ser os brasileiros que somos. Os escravizados trouxeram arte, cultura, música, coragem, sentimento de comunidade. Mesmo tendo que lutar para sobreviver, trouxeram com eles amor e alegria. Assim como o próprio Cais do Valongo, que sofreu com apagamentos físico e simbólico ao longo do tempo, a cultura afrodescendente por muitas vezes padeceu de tentativas de embranquecimento e esquecimento. Mas sobreviveu. Na culinária, nas crenças, na música, na dança, em todos os aspectos que nos constituem. E, em 2023, a proposta é coroar essa resistência com reparação histórica e promoção das narrativas locais, atraindo turistas, incentivando desenvolvimento econômico e proporcionando à região espaço de destaque.
A primeira ação prática foi recriar o Comitê Gestor do Cais do Valongo. Em 2017, com o título da Unesco, um comitê havia sido criado, mas foi destituído em 2019. Em março deste ano, um novo colegiado de 15 representantes da sociedade civil e 16 integrantes dos governos federais, estadual e municipal, entre eles gestores do Ministério da Cultura, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram/MinC) e do Iphan, se tornam responsáveis pelos trabalhos de recuperação e valorização do Cais do Valongo.
Além do Comitê Gestor, Leandro Grass, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), contou em entrevista que o Cais do Valongo e a região em que ele se localiza, conhecida como Pequena África, estão sendo recuperados de forma mais ampla, através da criação de um comitê interministerial, que pretende pensar e aplicar políticas públicas para o local e torná-lo ponto de referência na relação do Brasil com países africanos e europeus.
– A proposta é realizar uma retomada da memória. Não apenas da escravidão em si, mas de toda a relação que esses países estabeleceram com a América Latina, com a Europa. E nós podemos fazer essa reparação contando a história dos países, dessas culturas, principalmente com a intenção de promovê-las, de valorizá-las – explicou Grass.
A zona portuária do Rio de Janeiro, banhada pelo mar no século XIX, foi ponto de entrada dos africanos, mas também se tornou moradia e espaço de sobrevivência e de vivências culturais importantes. A população negra alforriada – parte significativa vinda da Bahia – e seus descendentes moraram naquela região, trabalharam no porto como estivadores, nas ruas como pequenos comerciantes. Isto quando havia trabalho para eles, já que além da carta de alforria, não foi dado nenhum suporte do Estado para melhorar a condição de vida dessa parte da população.
No século XIX, mais precisamente em 1890, um ano após a Proclamação da República e dois anos após a Lei Áurea, segundo conta o jornalista e escritor Leonardo Bruno, é promulgado o primeiro Código Civil da República, que criminaliza atividades praticadas pela negritude.
– O código civil criminaliza a capoeira, criminaliza o que eles chamam de feitiçaria, que na verdade era a prática das religiões de matriz africana, cria o conceito de vadiagem. E quem eram as pessoas que estavam na rua da cidade sem, necessariamente, estarem a caminho de um trabalho? Majoritariamente a negritude, que não tinha nem trabalho para ir. Essa negritude só tem basicamente uma estratégia de sobrevivência, que é se juntar, reforçando os vínculos afetivos e associativos entre eles. Daí nascem esses agrupamentos conhecidos posteriormente como Pequena África – pontuou Leonardo.
No documentário ‘Porto da Pequena África’, roteiro e direção de Cláudia Matos, a doutora em história pela UFF Erika Bastos Arantes explica:
– A Pequena África é um nome, um apelido carinhoso, que o sambista Heitor dos Prazeres deu, se referindo a uma região da cidade do Rio de Janeiro, chamada de zona portuária, mas que inclui não apenas os bairros da zona portuária como Gamboa, Saúde, Santo Cristo, mas também a Cidade Nova, que é onde está a Praça XI, e era uma região que concentrava a maior parte da população negra.
População cujo senso de comunidade tornou-se, também, estratégia de sobrevivência. Quando se reuniam para os momentos de lazer, batucavam. Essa era uma atividade não proibida pelo Código, mas frequentemente reprimida diante de tantas restrições impostas à negritude, segundo Leonardo Bruno. Dessa forma, entende-se a importância das tias e suas casas, já que batucar em espaços abertos era perigoso. As festas, portanto, tinham que acontecer em lugares fechados e, mesmo assim, na parte da frente das casas eram as danças de casal, para disfarçar. Já a batucada mesmo era no fundo de quintal, expressão presente até hoje. Além disso, as tias seguem a tradição presente nas religiões de matriz africana, onde as mulheres têm posição de liderança. Protagonismo exercido por elas também na parte financeira, já que enquanto os homens buscavam trabalho no porto, muitas vezes sem sucesso, eram as tias que saíam com saias rodadas, guias e turbantes acompanhadas de seus tabuleiros recheados de quitutes de acarajés a cocadas, lavavam roupas, trabalhavam nas casas dos mais ricos, conseguindo, assim, sustentar suas famílias. São muitas as tias presentes na Pequena África do século passado: Bebiana, Mônica, Carmem, Perciliana, Amélia, entre outras.
– As tias baianas que eram os grandes esteios da comunidade negra, responsáveis pela nova geração que nascia carioca, pelas frentes do trabalho comunal, pela religião, rainhas negras – conta um trecho do livro ‘Tia Ciata e a Pequena África’, de Roberto Moura.
Portanto, as tias cuidavam das casas, das crianças, das manifestações religiosas, das festas. Entre elas, destacou-se tia Ciata, mulher negra, baiana, quituteira, empreendedora, de fibra. Tia Ciata curou o presidente da República, Venceslau Braz. Ganhou fama e, dizem, privilégio para realizar festas sem interrupção policial.
– A tia Ciata começou a receber em sua casa não só a negritude recém-liberta, mas também jornalistas, formadores de opinião, músicos de classe média. Há relatos que Mário de Andrade teria ido à casa da tia Ciata. Pixinguinha, João da Baiana, Sinhô, Donga… Uma turma de músicos que tocava em 1910, e todos começaram a frequentar o ambiente, a casa da tia Ciata – completou Leonardo Bruno.
“Tia Ciata festejava seus orixás, sendo famosas suas festas de São Cosme e Damião e de sua Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Nas festas, suas habilidades de partideira a destacavam nas rodas de partido-alto, e seu neto Bucy Moreira aprendeu com ela o segredo do “miudinho”, uma forma de sambar de pés juntos que exige destreza e elegância, no qual Ciata era mestra”, como informa o site da Casa da Tia Ciata.
Dessa movimentação que acontecia na casa da tia Ciata, vão surgindo novos gêneros musicais, com a música portuguesa se misturando à batucada africana. O Lundu, por exemplo, foi o primeiro deles a surgir desses encontros.
De outra versão dessa mistura entre gêneros portugueses e batucada nasce o que passa a ser chamado de samba. O marco ocorre em 2017, quando Donga lança “Pelo Telefone”, que faz um grande sucesso, e é a primeira vez que se associa o carnaval ao samba. Já faz um tempo que “Pelo Telefone” nem é considerado samba, mas, maxixe. Mas a música já começava a ter as primeiras características de samba, com batucada forte e um ritmo para ser dançado cada vez mais individualmente e menos em casal, como era o caso do maxixe.
PASSEIO PELAS PEDRAS PISADAS DO CAIS
E tudo isso têm sido cada vez mais procurado por cariocas e turistas do Brasil e do exterior. É o movimento de redescoberta da Pequena África, que ganha força com o Decreto Municipal nº 34.803, de 29 de novembro de 2011, quando se cria o Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana. Este traz história, memória, passado, mas, também, bares, museus, restaurantes e outros pontos atrativos para quem quer curtir a cidade do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, conhecer mais sobre sua própria origem. Multiplicam-se os passeios guiados pela região, como o que promove a historiadora e guia de turismo Luana de Oliveira Ferreira, que conduz grupos a pé por parte da Pequena África. A saída é no Museu de Arte do Rio, passa pelo Morro da Conceição e chega ao Largo da Prainha, onde Luana apresenta a estátua de bronze de Mercedes Baptista, a primeira bailarina negra a compor o concorrido corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela chega à Pedra do Sal, segundo a historiadora, um espaço central na Pequena África.
A Pedra do Sal era um lugar de encontros, sagrado, com oferendas aos orixás, com batuque e capoeira. Foi o primeiro espaço ligado à herança cultural popular e negra no Brasil reconhecido como patrimônio cultural no Rio de Janeiro. Em texto escrito na defesa do tombamento, em 1984, o historiador, professor e escritor José Rufino dos Santos diz:
– Dali, os moradores da Saúde saudavam os navios que chegavam da Bahia com familiares e amigos. A Pedra do Sal era, para esses migrantes, o que é hoje o Cristo Redentor para os recém-chegados ao Rio: o primeiro abraço e o primeiro sentimento da cidade.
O tour guiado segue pelo Jardim Suspenso do Valongo, passa pela Casa da Tia Ciata – não é onde foi sua moradia, mas um espaço acolhedor destinado a contar sua história. A caminhada por parte da Pequena África com a Luana é costurada com a história da região, sugestão de textos acadêmicos, livros, especialistas no assunto e homenagem aos moradores locais. Conta como o Rio de Janeiro, que, na época, tinha Paris como modelo a ser copiado, tentou esconder a população negra e pobre da parte nobre da cidade. Uma viagem no tempo e na prática, apresentando construções, ladeiras e vielas.
Perto do fim do tour, o ápice: os escombros do Cais do Valongo. Luana cita que também havia no local construções dedicadas a tratar dos escravizados doentes após a insalubre e desumana travessia do oceano Atlântico, que os deixavam prontos para serem vendidos. Já os que estavam muito fracos e terminavam morrendo eram enterrados, como indigentes.
Estar diante do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo cobra respeito e indica que é importante lembrar para nunca esquecer e, portanto, nunca repetir. Lembrar para homenagear e reverenciar a construção da nossa identidade.
E esta é a outra novidade para a região, como conta Leonardo Grass, presidente do Iphan.
– A partir do resgate do prédio Docas do Pedro II se pretende a instalação de um lugar de memória, de um lugar de cultura, não é só o museu em si, mas o que a gente chama de centro de referência da herança africana no Brasil. A gente ainda vai discutir com o comitê gestor do território qual é o modelo de ocupação. O BNDEs está disposto a fazer um investimento ali, já tem um anúncio inicial de 20 milhões – informou Grass.
A visita à nossa história faz lembrar trecho narrado logo no início do documentário ‘Porto da Pequena África’:
– Hoje, todos me conhecem pela alegria e as festas, mas eu não me esqueço de como cheguei aqui. A partir das pedras pisadas desse cais, ergui meu reino imaginário, minha nova pátria, minha Pequena África. Foi aqui que ensinei o Rio a ser carioca.
2023, Pequena África. De dia e de noite: rodas de samba, de capoeira, arte, cultura, muros pintados que registram a história, pontos de encontro, muita batucada. O Rio apenas sendo carioca, na Pequena África.