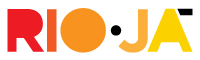Caroline Rocha
Se eu encontrasse a Carol de uns sete anos atrás, ela se espantaria com meu envolvimento atual com o Carnaval. O meu “eu adolescente” passou por uma fase rebelde em que jurava não gostar de samba – um gênero que, todo fim de semana, dava início, desenvolvimento e fim às festas no quintal do meu avô. Foi uma tentativa (falha) de fugir do padrão.
Meu avô aproveitava para me “encarnar”. Aumentava o volume da caixa de som, me puxava para dançar e ria, dizendo que eu ficaria igual a ele quando crescesse, enquanto acariciava a própria barriga.
Eu queria criar minha história. Ele sabia que, assim como ele, sempre tive o gênio forte e nunca me atraiu o caminho mais fácil. Ele incentivava esse meu lado, porque gostava de me ver argumentando e defendendo o que acreditava.
Na minha infância, eu amava passar o dia inteiro na piscina, correndo pelo quintal e arrancando as flores do jardim da casa que ele mesmo planejou e construiu, quando o trabalho no Carnaval começou a dar frutos. Eu sempre aguardava ansiosa o momento que ele chamaria, a mim e meus primos, para passear de carro pelo bairro e tomar sorvete em alguma padaria de esquina. Mas meu momento preferido era quando íamos para casa de praia em Araruama e ele carregava a gente na caçamba (!) do 4×4.
O vento batendo no rosto e a animação típica de um grupo de crianças nos fazia sentir como se aquela fosse a maior aventura do mundo. Meu avô gostava disso. Mesmo com seus 60 e poucos anos, tinha uma alma jovem. Instigava meu lado moleca e corajosa, porque sabia que a vida não era fácil e queria que eu aprendesse a me desafiar.
Foi durante a pandemia que eu completei a maioridade. Comemorei meus 18 anos no parque com meus pais, tios e avós, durante um momento de afrouxamento do distanciamento social. Era a primeira vez que nos encontrávamos desde o início do lockdown. Até aquele mês de setembro, todos os parabéns haviam sido por videochamadas, inclusive o dele. No momento de cantar o meu parabéns, ele deitou no meu ombro. Essa cena ficará guardada para sempre na minha memória: meu avô, que tanto me acolheu em seus braços, deitado no meu ombro, com um semblante único de paz.
Sempre o descreveram como alguém sisudo. Esse era o Laíla. Um baluarte autodidata que saiu da miséria e conquistou 28 títulos no Carnaval sem sequer ter terminado o colégio.
Vovô Laíla era risonho e brincalhão. Minha avó costuma dizer que depois que os netos nasceram ele ficou com o riso frouxo. Ele fazia questão de nos proporcionar tudo aquilo que a infância dura no Morro do Salgueiro não lhe deu. Queria que a gente fosse criança – coisa que ele não conseguiu ser.
Quando cismei que não gostava de samba, ele não pareceu se preocupar. Geralmente aproveitava nossos momentos juntos para falar de assuntos profundos. Laíla era gênio sem precisar de diploma. Levantou pautas raciais e socioculturais na década de 60, muito antes de “desconstrução” ser moda.
Debatíamos bastante. Concordamos e discordamos. Era incisivo, mas nunca autoritário. “Não sou ditador”, dizia. Ele era filho de Xangô, guardião da justiça e protetor dos desfavorecidos. Justo, bondoso e forte. Foi com ele que aprendi a importância de enxergar o outro.
A última vez que nos vimos foi na casa dele, lugar onde criei milhares de memórias. Era madrugada e o ouvi chamar. Me disse que não estava se sentindo muito bem. Desci as escadas em busca de remédios. Ele tomou e conversamos um pouco, como gostávamos de fazer.
Vovô Laíla foi internado na manhã seguinte e nunca mais voltou. Quando recebi a notícia, desmoronei. Uma dor dilacerante que sequer consigo descrever. Me senti em pedaços. Esses pedaços se juntaram quando ouvi a Sapucaí gritar em coro que “sua presença ainda está aqui”.
Em um de seus aniversários, enquanto eu o gravava agradecendo pelas mensagens carinhosas, ele disse uma frase que ecoa na minha mente desde então: “Quem é filho de Xangô nunca é derrotado. Com Ogum junto fica ainda mais difícil”.
Realmente, Vô. Laíla raramente era derrotado no Carnaval. Não foi derrotado pela vida e nunca vai ser derrotado pela morte. Porque, como dizia Wilson das Neves, só morre quem não presta. Quem presta fica vivo para sempre, porque o povo nunca esquece de alguém tão grandioso como você, Vô.