Caroline Rocha
Roupas em inúmeros estilos, artigos religiosos, acessórios variados… Tem de tudo em Madureira. Os produtos abaixo do preço de mercado são a principal lembrança de muitos cariocas sobre o bairro da Zona Norte do Rio. Mas o lugar homenageado na tão conhecida música de Arlindo Cruz extrapola o status de polo comercial.
Madureira é, fundamentalmente, um polo cultural afro-brasileiro. Não à toa, a região é referência na arte de trançar, com diversidade e qualidade nos penteados. Box braids, nagô, boxeadora, twist… Mais de 500 anos após a diáspora africana, as tranças seguem como parte importante do processo de resistência negra e, em Madureira, revelam-se fonte de renda de centenas de mulheres pretas, a maioria chefes de família.
É o caso de Alessa Oliveira, que aos 43 anos afirma orgulhosa que são as tranças que sustentam a filha de seis anos. “Hoje é a minha primeira fonte de renda. Eu vivo de trança. É a minha profissão.” Moradora de Mesquita, na Baixada Fluminense, a trancista aprendeu o ofício aos 12 anos, observando a avó. Desde os 17, já realizava atendimentos, principalmente nos finais de semana.
Durante alguns anos, buscou oportunidades no mercado formal e atuou como atendente de telemarketing e agente de depósito. O retorno ao amor cultivado desde a infância pela avó ocorreu após o convite de um antigo cliente.
Em 2009, Fábio Alves criou um blog para divulgar o trabalho de trancistas, após se frustrar pela dificuldade de encontrar um profissional para trançar o próprio cabelo. Dois anos depois, a ideia evoluiu para a criação de um estúdio – hoje um dos maiores salões especializados em tranças na cidade. A sede não poderia ser outra que não Madureira.
“Eu sempre me senti muito deslocado. A primeira vez que eu cheguei no viaduto [de Madureira] eu me perguntei onde estavam essas pessoas que eu não encontrava no dia a dia. Para mim foi muito bom ir na padaria e o dono da padaria ser uma pessoa preta, ir no sacolão e o dono do sacolão ser uma pessoa preta… Isso realmente muda [a autoestima]. Tanto é que hoje eu moro em Madureira”, contou o administrador do salão nascido em Nilópolis.
Mais de uma década depois, dez trancistas atendem cerca de 120 clientes por mês: são homens, mulheres e crianças, principalmente da Zona Norte e da Baixada Fluminense, que reservam sete, oito, até dez horas do dia para mudar o visual. Enquanto dedos ágeis entrelaçam as mechas de cabelo, o salão se torna uma roda de contação de histórias de superação, resistência e redescobrimento pessoal.
“Eu tranço meu cabelo desde que me entendo por gente. Minha mãe e minha avó trançavam os meus cabelos e da minha irmã e tinham o hábito de sentar com a gente na varanda, trançar e conversar. Isso ela passou para minha mãe, que passou para gente e eu tento passar para o meu filho”, conta a engenheira civil Daiane Almeida, de 35 anos.
“[Quando tranço o cabelo] me remete muito a essa questão familiar, porque tenho a lembrança da minha avó, que já é falecida. Vem sempre essa relação de afeto, carinho e acolhimento”, complementa.
Todas revelam a importância da família para a construção de uma relação positiva com os fios crespos e cacheados e o desejo de reproduzir uma educação libertadora. Aos seis anos, a filha de Alessa já sabe trançar e ama ousar nos penteados afro.
“A gente vive num país que a discriminação é bem latente. Eu já queria essa personalidade dela: de se aceitar, de aceitar o cabelo, de gostar de trança. Como mãe, a gente não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, mas eu acho que eu tô no caminho certo para que ela não abaixe a cabeça”, diz a trancista.
O ensino afrocentrado também é aplicado por Daiane, que revela já ter passado por diversos episódios de racismo – principalmente no mercado de trabalho. O objetivo da engenheira é preparar o filho para as violências que, infelizmente, ele irá passar. “Ele tem cinco anos e tem um amigo loiro, que tem o cabelo até aqui”, conta a mãe enquanto posiciona as mãos na altura do peito.
“O amigo falou que não ia brincar com ele porque ele era preto e o cabelo dele estava para o alto. Meu filho não identificou o preconceito e falou para mim: ‘eu não entendi porque ele falou isso, porque eu sou tão bonito, meu cabelo para o alto é lindo’. Isso para mim já valeu, porque essa é a referência que eu dou para ele”, relembrou com um sorriso orgulhoso.
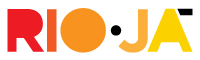










Um comentário
Comentários estão fechados.