Aydano André Motta
O bordão do mercado imobiliário americano – “location, location, location”, localização repetida triplamente para enfatizar sua importância – resume a enrascada do Rio em torno de seus principais aeroportos. De um lado, o pequeno Santos Dumont, nas franjas do Centro, lotado de passageiros, voos, atividade econômica; de outro, o imenso e conservado Riogaleão Tom Jobim, na Ilha do Governador, vazio, ocioso, melancólico. No meio, uma odisseia de caprichos e desequilíbrio, escolhas e desperdício.
Visitar os dois terminais separados por 20 quilômetros desvenda cenário surpreendente pela inversão. O que foi construído (e ampliado) para ser protagonista padece no desprezo; o revigorado coadjuvante brilha na popularidade feérica. A dicotomia aeroportuária inflama o debate de uma cidade que patina diante do desafio de prosperar na sua maior vocação: o turismo.
A troca de papéis na trama da vida real se deu a partir da inauguração do terminal de embarque do Santos Dumont, em 2007, e a consequente autorização, dois anos depois, para voos além da histórica Ponte Aérea (Rio-São Paulo e Rio-Brasília). Começou um vaivém aéreo que se mantém em viés de alta.
O Tom Jobim, ou RioGaleão, nome adotado pela Changi Airport, concessionária desde 2014, padece com muito menos pousos e decolagens do que o adequado para seus dois terminais. O 1, inaugurado em 1977, jaz às escuras, fechado; o 2, ampliado e modernizado para os Jogos Olímpicos de 2016, funciona muito abaixo da capacidade. A conta assusta: o aeroporto recebeu 5,9 milhões de passageiros ano passado – menos de um sexto dos 37 milhões que tem capacidade para abrigar.
Noves fora os reflexos da pandemia, o Tom Jobim perdeu voos internacionais para outros estados (Guarulhos, em São Paulo, principalmente) e domésticos, para o Santos Dumont. Dono da maior pista comercial do país (4 mil metros), conecta-se a 12 destinos nacionais e 19 fora do Brasil.
Outro adversário do aeroporto da Ilha do Governador é seu principal acesso, a Linha Vermelha. Cariocas e forasteiros temem a violência na via expressa e reclamam da quase inexistência de transporte de massa e dos constantes engarrafamentos – mesmo com a distância para o Centro menor do que na maior parte das metrópoles mundo afora.
O resultado saltava aos olhos na ensolarada tarde da terça-feira 18 de maio. A luz do outono iluminava saguões quase vazios, com mais funcionários do que passageiros no Terminal 2. O movimento no andar de embarque, com as filas para check-in e despacho de bagagem, era maior, mas sem aperto. “Viemos pelo Galeão porque a passagem é mais barata. Economizamos uns mil reais”, confessa Jéssica Silva, cearense em férias no Rio com a mãe, a tia e um casal de primos. O aeroporto fez sucesso. “Confortável, organizado, limpo”, elogia, sob olhar de aprovação das parentes. “Muito melhor do que Guarulhos”. Sobre a Linha Vermelha, o desconhecimento foi uma bênção. “Violenta? Não sabia. Passamos sem problema. Nem trânsito tinha”.
Mas a crise se expressa mesmo na angústia dos trabalhadores nos quase 30 mil metros quadrados da área comercial. Mariane Dias, gerente do Bob’s na entrada da praça de alimentação do segundo piso (o embarque), relembra os tempos áureos, quando comandava 45 funcionários em três turnos da loja que ficava aberta 24 horas. Hoje, são 14, das 7h às 22h30. “A clientela mudou. Antes eram passageiros, agora são basicamente funcionários do aeroporto”, narra. “Isso aqui bombava, mas agora fica assim. E no fim de semana, é menos ainda”, lamenta. Das nove lojas da praça, duas estão fechadas.
“Construí minha casa com as gorjetas que ganhei aqui”, suspira Rosivan da Silva Reis, taxista da Aerocoop, uma das duas cooperativas credenciadas a operar no terminal. “Tirando a pandemia, é a pior fase”, depõe ele, há 22 anos no Galeão. Com 500 carros disponíveis, as corridas rareiam – os motoristas encaram 14 horas diárias para fazer duas. “Alguns passageiros, quando chegam aqui no saguão, perguntam se tem algo errado”, relata o taxista.
A Riogaleão mantém silêncio em relação a essa e outras respostas. Controlada pela Changi, empresa aeroportuária de Singapura, a concessionária arrematou o controle do Tom Jobim por R$ 19 bilhões em 2013, véspera dos grandes eventos, em especial a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Precisa pagar, anualmente, a outorga de R$ 1,3 bilhão para manter a gestão até 2039 – mas os prejuízos alcançariam R$ 6 bilhões.
A empresa cogitou desistir, mas agora tenta renegociar o contrato com o governo federal. A tentativa de reduzir o pagamento à metade é “legalmente impossível”, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. “Não sabemos se vão sair, ficar ou vender a participação para outra empresa. Nosso diálogo tem sido só com o CEO brasileiro. Tenho a impressão que a Changi não está disposta a continuar investindo, apesar do nosso interesse que eles fiquem”, comentou.
Prefeito e governador, Eduardo Paes e Claudio Castro botam lenha na fogueira da controvérsia. “Estamos prontos para tomar as medidas necessárias para reduzir a capacidade do Santos Dumont e o Galeão receber novos voos, recuperando sua importância”, postou o prefeito numa rede social, e nisto falava também em nome do governador.
Realmente, como diz a música, alguma coisa está fora da ordem. Segunda cidade do país, o Rio tem voos diretos para apenas 27 destinos domésticos. Em São Paulo, são 57; Brasília, 40; Belo Horizonte, 39; e Recife 30. Paes e Claudio Castro entendem que a limitação do Santos Dumont em 9,5 milhões de passageiros anuais ajudaria a resolver o problema.
De seu lado, o aeroporto do Centro, controlado pela estatal Infraero, surfa a popularidade. A empresa, inclusive, revisou a capacidade de 9,9 milhões para 15,3 milhões de passageiros por ano (54,5%) – “canalhice inaceitável”, berrou Paes, de novo nas redes sociais. “Os voos domésticos têm que ser para conexão no Galeão, para atrair voos internacionais. O Rio precisa de um aeroporto internacional. Sabemos dos problemas da cidade. Não podemos permitir que o Galeão seja destruído. Chega de perder vocações!”, atacou ele.
Ainda nas redes, afagou o outro aeroporto – “um charme, muito confortável” – mas bateu na gestora. “Só não vê quem não quer! O Santos Dumont virou a única fonte de receita da estatal Infraero! Ou seja: quanto mais voos, mais receita. Para complementar, ajuda a inviabilizar o Galeão. Aí, o operador privado sai da concessão e quem assume? A Infraero!”, especulou. São, até prova em contrário, vozes da cabeça do alcaide – Márcio França fala em “relicitação”, se a Riogaleão desistir.
O sonho dos dirigentes cariocas é uma improvável volta ao passado: Santos Dumont com as pontes aéreas para São Paulo e Brasília, além de voos regionais, e o resto no Tom Jobim. Difícil, a julgar pelo sucesso do aeroporto central, comprovado logo na entrada, com o permanente engarrafamento de táxis e carros de aplicativo, que uma estridente sinfonia de apitos dos guardas municipais tenta – em vão – organizar. Adiante, o requintado VLT oferece transporte coletivo, barato e silencioso.
O desembarque ocupa o prédio mais antigo, inaugurado em 1944, com seus pilares redondos e estrutura vazada, que descortina a vista cinematográfica da Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, as montanhas, o baile todo. No canto, táxis saem um após o outro, em movimentação permanente (os carros de aplicativo se concentram na outra ponta, no shopping vizinho).
Cada um dos 250 veículos da AeroSantosDumont realiza cinco corridas diárias, mas raramente há fila de espera dos passageiros. Ainda não está como na fase mais profícua, entre 2014 e 2016, o tempo de Copa e Olimpíadas, mas só melhora, atesta Antônio Rodrigues 60 anos, 41 no aeroporto. “O movimento aqui não para entre 7h e 17h. Às vezes falta carro”. A seu lado, Edilson Costa, 30 anos de experiência no aeroporto, lembra que a pandemia ainda não permitiu o retorno completo à normalidade. “Mas não podemos reclamar”, admite, antes de se despedir porque apareceu uma corrida.
Tanto no perfil dos clientes dos táxis como por todas as dependências do terminal, é visível a mudança de perfil dos viajantes. Os homens de terno e mulheres carregando apenas uma bolsa ou computador ainda estão lá, mas dividem cafés, escadas rolantes e acessos com famílias, crianças, idosos e grupos maiores a caminho do lazer ou das férias.
“Mudou o perfil, do corporativo para o turístico”, constata Juliene Ferreira Rodrigues, auxiliar de aeroporto, que há uma década organiza filas e assiste passageiros no check-in. “Hoje, a demanda é maior nos feriados e em dezembro e fevereiro, meses de férias”, aponta ela, que mora em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, e utiliza metrô e VLT para trabalhar. “Muito rápido e eficiente”. Problema mesmo só quando chove e as duas pistas fecham. Aí imperam o estresse e as filas gigantes. “O Santos Dumont é muito sensível”, opina a funcionária, um dos 3.640 trabalhadores credenciados.
Mas Eduardo Oliveira, advogado de São Paulo que vem “pelo menos duas vezes por mês” ao Rio, viveu poucas intempéries. Sentado numa das lanchonetes do desembarque, ele elogia os serviços do Santos Dumont, “mesmo estando mais cheio”, e sequer conhece o Tom Jobim. “Ninguém quer ir para lá por causa do deslocamento difícil”, critica. “Os problemas do Rio são segurança pública e transporte terrestre. Com o aeroviário está tudo bem”, avalia o advogado que muitas vezes vai ao Fórum, a menos de dois quilômetros de distância, na tranquilidade do VLT.
Reclamar de tanta comodidade é muita viagem.
SAIBA MAIS:
– NUM LADO, ATRASOS; NO OUTRO, OCIOSIDADE
– AUTORIDADES COMENTAM SITUAÇÃO DOS AEROPORTOS CARIOCAS
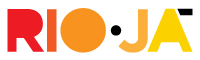










Um comentário
Comentários estão fechados.