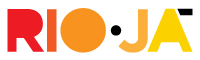Sempre que o tempo ajuda, e a agenda permite, a turma se reúne debaixo de uma árvore do Parque do Flamengo, ali pela altura do Posto 3, toda terça-feira para um churrasquinho. Defronte à vista deslumbrante do Pão de Açúcar, jornalistas, intelectuais e a nata do samba carioca degustam nacos de carne enquanto trocam papos cabeça e bebericam vinhos e cervejas. Instrumentos musicais não são permitidos, para que o samba não atravesse as conversas. “Melhor do que isso bicho, só nos tempos do Estácio de Sá, quando diziam que aqui na frente tinha baleias enormes zanzando pra lá e pra cá”, diz o consagrado compositor Moacyr Luz, organizador da festa e fundador do Samba do Trabalhador, que há 16 anos anima as tardes de segunda-feira no Clube Renascença.
Verdadeiro cronista musical do Rio de Janeiro, ele está se guardando para quando o carnaval chegar em uma situação inédita: verá duas escolas de samba desfilando com sambas seus pela avenida. “E por pouco não foram três”, revela ele. “É que fui a uma live com meu amigo Martinho da Vila e de repente ele brincou: meu parceiro, quando você vai fazer um samba pra Vila? Eu ia dizer o que? Fiz o samba e até cheguei na final, mas não ganhei. E como diz o Wanderlei Borges: pra samba-enredo não existe segundo lugar”.
Para quem não conhece, Moa, como é chamado pelos mais íntimos, é da rapaziada que vai em frente e segura o rojão. Durante a pandemia perdeu amigos, colegas de trabalho, músicos, entre eles, seu grande amigo e principal parceiro, o compositor Aldir Blanc, uma das primeiras vítimas da Covid-19. Juntos os dois emplacaram sucessos inesquecíveis como “Coração do agreste” (lançada em 1989 na voz de Fafá de Belém em gravação feita para a novela “Tieta”, da TV Globo), “Mico Preto” (tema da novela homônima também exibida pela Globo em 1990), “Só dói quando eu rio” e “Saudades da Guanabara”, entre vários outros. “Quando eu liguei pra casa dele e disseram que ele tinha sido internado eu não acreditei. O Aldir só saía de casa morto, e, pra mim, ele era imortal”, lembra.
Moa pode até não admitir, mas sua história de vida é um baita plot twist de roteiro de filme norte-americano. Seu pai morreu quando ele tinha 15 anos. Na semana seguinte uma tia, vendo-o amoado (sem trocadilhos) recomendou-lhe que acompanhasse o primo, que tinha aulas de violão com Helio Delmiro (uma das maiores referências no manejo deste instrumento no Brasil), para ver se arejava a cabeça. Após chegar na modesta casa do mestre no Méier, sentou-se na varanda para esperar o fim da aula até que, ao ouvir os famosos acordes do tema da novela “O Bem Amado”, teve uma epifania. “Quando vi já estava tomado pela música”, conta. Helio afeiçoou-se ao rapaz, que sem grandes urgências na vida, passou a acompanhá-lo em conversas e ensaios com pessoas de quem ele até então remotamente tinha ouvido falar, como Elizeth Cardoso ou Vitor Assis Brasil. Viveu cinco anos nesse cenário.
“O que eu queria mesmo era ser instrumentista, só que eu pegava o violão e não conseguia estudar, só saía música, música, música. Mas acho que essa história com o Helio Delmiro não foi o meu start pra esse negócio. Foi mesmo o talento de nascer com esse negócio de fazer música, bicho”, diz Moa. “Porque meus primos outro dia estavam lembrando: eu não tinha a menor ideia de nada e desde cedo fazia música para todos eles. Depois, à medida em que fui ficando mais velho, fiz música pra empregada, pro porteiro… Desde garoto, sempre fazendo música”. Segundo seus cálculos, durante a pandemia compôs mais de 100 canções. “Hoje mesmo, antes de vocês chegarem, fiz duas músicas”, diz, rindo.
O coautor de “Saudades da Guanabara” não é nem um pouco saudosista. “Eu não vi o Cartola tocar. Não convivi com o Cartola, reconheço o Cartola, mas convivi com o Luiz Carlos da Vila. E eu aprendi a respeitar o que me é contemporâneo, as coisas que eu vivo”, diz ele, recorrendo a um exemplo de fácil entendimento pela boa boêmia: “eu conheci o Bar do Adonis antigo, o do seu Arnaldo, já falecido. Aí vem um pessoal hoje criticar o João, que comprou o Adonis por isso e mais aquilo. Mas a verdade é que o Adonis de hoje é muito melhor do que o de antigamente”, afirma.
E prova maior de que do caldeirão criativo de Moa não há compromisso com o atraso é sua mais nova e surpreendente parceria, com o não menos famoso DJ e compositor Marcelinho da Lua, nome de especial relevância na cena sonora que mistura ritmos brasileiros com batidas eletrônicas. O resultado é o álbum “Diz Humanos”, com previsão de lançamento para o começo de 2022 e participação de nomes como Martinho da Vila, Frejat, Jards Macalé e Xande de Pilares, entre outros. “Tem essas coisas de compositor, né? Um dia ele me deu umas quatro páginas manuscritas e falou preu dar uma lapidada e ver se saía uma letra. Eu falei, tá maluco? Fiz a música usando todas as quatro páginas. Você vai ouvir. São cinco minutos de bordoada”, diverte-se.
RIO JÁ – O samba agoniza, mas não morre?
MOA -Vou te dizer uma coisa. Daqui a 100 anos no mundo só vai ter as baratas e o samba. Porque sempre vai ter um cara tocando um tamborim, um cavaquinho. E hoje eu tenho visto uma geração de novos compositores muito boa. O problema é que o repertório está meio saturado. Vou te dar uma ideia a partir de um samba maravilhoso, para não dizerem que eu falei mal de nenhum: você passa no Carioca da Gema e escuta “Vejam essa maravilha de cenário”, anda mais um pouquinho, chega no Dama da Noite e tem outro cantando “é um episódio relicário”, e por aí vai. Então os novos compositores têm dificuldade para mostrar suas composições, e isso dificulta a renovação. E ainda tem uns militantes cariocas que trabalham muito. Porque eles tão no Bip Bip, eles tão no Largo da Prainha, no Circo Voador, e são sempre os mesmos. É uma responsabilidade. Tem que se encontrar um novo grupo de cariocas. Porque o pessoal tá indo embora: Jaguar, Fausto Wolff, Albino Pinheiro. Esses caras é que seguravam a onda do Rio e não deixavam o mau humor tomar conta.
É verdade que você ficou decepcionado com o cancelamento dos shows do Réveillon?
Bicho, eu ia realizar um sonho meu. Fui selecionado para tocar num palco aqui na praia do Flamengo com o Samba do Trabalhador e minha ideia era chamar todo mundo, dos músicos aos garçons do Renascença para fazer uma baita festa aqui em casa. Ia todo mundo tomar banho aqui depois da passagem de som e ninguém ia esquentar cabeça com traslado, burocracias e tal. Mas almocei com o prefeito semana passada e a opção foi por ter queima de fogos e DJs. Eu, por mim, faria o Réveillon. A pandemia está bem controlada, pelo menos no Rio de Janeiro. Isso se o presidente não inventasse coisas. Eu lá em Paris tive que tirar a carteira sanitária, senão você não entra nem na padaria. Mas acho que o prefeito optou por não fazer bagunça nenhuma no Réveillon pra ter lastro pro carnaval.
Como é ter dois sambas na avenida no mesmo Carnaval?
Tô vivendo uma experiência maluca rapaz. Dois sambas: Tuiuti e Mangueira. Eu já fiz uns seis sambas pra Renascer de Jacarepaguá, ganhei até Estandarte de Ouro (tradicional premiação organizada pelo jornal O Globo no Carnaval). Depois fiz mais três pra Tuiuti, um até que ajudou a escola a conquistar um segundo lugar em 2018. Fiz pra Grande Rio em 2019. Mas o primeiro que fiz mesmo foi pra Mangueira, em 1998, cujo enredo era sobre o Chico Buarque, mas fiquei na final. Outro dia eu estava pensando nessa coisa: acho que sou um dos únicos compositores que já gravou com a Nana Caymmi e com as escolas de samba.
Tem diferença entre as duas escolas?
É uma ciumeira danada (rs). Mas são coisas diferentes. Quando fiz o primeiro samba da Tuiuti, foi uma coisa importante. Porque ele fugiu muito do formato. E eu, fazendo um samba pruma escola pequena, soube que a Midia Ninja tinha divulgado para mais de um milhão de pessoas. Tuiuti não é Mangueira. Ninguém nasce Tuiuti, só quem mora ali. Já Mangueira não. O Clinton é Mangueira. Mas depois do Midia Ninja o samba começou a ser cantado e explodiu de uma tal maneira que eu não esperava. Mas a Mangueira é uma coisa diferente. Não é só uma escola de samba, é uma comunidade, uma coisa internacional. Quando eu ganhei o samba da Mangueira, meu zap parou de funcionar, porque entraram umas 500 mensagens ao mesmo tempo. De todos os lugares, Portugal, Japão… Quando eu cheguei em Paris agora pra tocar, todo mundo já sabia o samba.
Como foi o retorno do Samba do Trabalhador depois da pior fase da pandemia?
A gente já tem 16 anos de Samba do Trabalhador né? Quando começou parecia uma coisa folclórica, segunda-feira de tarde, engraçadinho, mas ali tinha gente tocando entendeu? E a gente foi conquistando as pessoas. Em junho, quando deram uma relaxada, a gente voltou com aquele esquema de mesas separadas e tal. Mas achamos que estava uma coisa meio triste e demos uma nova parada. Voltamos em novembro, e no dia 15 tocamos para mais de duas mil pessoas. Vou te confessar que meu sonho é ser que nem o Woody Allen: tocar só as segundas-feiras no Rio de Janeiro. Mas o Rio é uma cidade que não tem muita compostura. Fui a um aniversário ontem e já tinha um violão lá. Fiquei doido pra tocar e acabou que toquei uma hora. Aí o dono da casa chegou e brincou: “pô, porque eu vou pagar pra assistir o Moacyr?” (rs)
Como tem sido sua agenda de shows?
Tenho feito uma média de 20 shows por mês. Não tenho mais saúde pra isso. Um amigo diz que eu faço mais show que a Anita. Tenho tocado muito em São Paulo e sabe que os caras lá estão tocando bem? O meu querido amigo Eduardo Gudin tinha uma bronca danada do Jaguar porque ele dizia que o samba de São Paulo era meio boiola, culpa do Adoniran Barbosa, que segundo ele, era um tremendo boiola por aquela música “minha mãe não dorme enquanto eu não chegar”. Que papo é esse, pô?
Você perdeu na pandemia Aldir Blanc, que foi um grande amigo e parceiro. Como foi lidar com essa perda?
Agora saiu um disco póstumo dele. Eu tenho três músicas no disco. Uma delas eu mostrei pra Maria Bethânia. Foi em 2017 que a gente fez essa música e combinou: essa música é pra Bethânia. E ela gravou a música. Então se existir essa dimensão aí ele deve ter ouvido a música. E ficou boa, muito bonita a música. Eu tenho um disco pela DeckDisc, “Violão e voz”, onde eu faço a seguinte dedicatória: “Dedico esse disco ao Helio Delmiro que me ensinou a ouvir, e a Aldir Blanc, que me ensinou a falar”. Então eu aprendi muito com o Aldir. Principalmente essa coisa de Rio de Janeiro, que eu já trazia, mas ele me trouxe Lan, trouxe Chico Caruso, Jaguar, o Chico Paula Freitas. Umas figuras. Uns 20 dias antes dele morrer eu ainda brinquei com ele, porque ele andava numa fase muito recluso, ele chegava a ficar dois anos sem sair de casa às vezes, e eu dizia: escreve um manual como é que se fica em casa sem sentir falta da rua. Hoje seria um best seller de auto-ajuda!
Dois anos sem sair de casa?
Tem uma história do Aldir que eu adoro contar. Eu tinha feito uns shows do projeto Pixinguinha. Viagens longas, cansativas. Nós moramos 23 anos no mesmo prédio. Eu no 103 e ele no 402. Aí eu estou voltando pra casa, no táxi, só pensando na minha cama. Quando desço do carro, o Aldir tá na janela” “Moa, preciso falar contigo”. Liguei e ele perguntou “vamos pra Lambari?”. Eu tinha acabado de chegar, tava morto. E ele “ah, sacanagem, se você não for eu não vou”. Aí a mulher dele me ligou: “pô Moacyr, o Aldir está a fim de sair de casa, Finalmente. Faz esse esforço”. Tá bom, e lá fomos pra Lambari parando em cada botequim no caminho. Oito horas de estrada. A casa era de um amigo nosso, Chico Botelho, que tinha ganho um dinheiro e construiu uma casa enorme, com campo de futebol e tinha umas suítes tipo: “suíte Aldir”, “suíte Moacyr”. Quando chegamos o Aldir me pediu ajuda com as coisas dele. Eram quatro malas, enormes. Pensei, “pô, prum fim de semana, quatro malas?” Aí ele abriu a primeira mala e tirou um abajur sanfonado. O resto era livro. E eu só o vi naquele dia, o resto ele passou enfurnado na suíte até a hora de ir embora.
Como se dá essa capacidade industrial para compor? 100 músicas na pandemia…
Vou te contar uma história. Um dia o Zeca Pagodinho, meu grande amigo, falou que tínhamos de compor uma música juntos. Era uma segunda-feira, e eu tinha de tocar no Samba do Trabalhador. “Mas hoje é que era o dia, estou animado”, disse ele, e marcamos para o dia seguinte. Fui fazer o show e quando terminei tinha um monte de mensagens do Zeca “atende aí, atende aí, tenho a letra pra você”. E ele me mandou uma foto de uma letra manuscrita. No caminho pra casa olhei aquela letra, transcrevi pro computador, tomei um banho, peguei um vinhozinho do porto para baixar a bola, olhei a letra de novo e fiz a música em cinco minutos. Acordei no dia seguinte com ele cancelando o nosso encontro, porque estava na maior ressaca e precisava ir à gravadora. “Já fiz a música”, disse a ele. “Como assim, era 1h da manhã? Me manda aqui pro e-mail da gravadora”. Deu um tempo e ele ligou mandando me vestir e ir pra Barra almoçar com o presidente da gravadora. A música chama “Enquanto deus me proteja” e entrou nesse disco mais recente dele.
Você voltou recentemente de uma turnê na Europa, como foi a viagem?
Engordei oito quilos, bicho. Um amigo meu que tem dinheiro foi me acompanhando e no primeiro hotel que a gente chegou em Paris ele viu que o café da manhã custava 18 euros. Fui pro quarto e ele me ligou dizendo que na frente do hotel tinha um bar de ostras com espumante que custava os mesmos 18 euros. Aí não tinha jeito. Já engrenava de manhã assim.
E a receptividade do público?
Vou te contar que teve uma hora que achei uma loucura aceitar fazer o show em Paris. Não sabia como tava minha moral por lá. A casa ficava numa ruazinha estreita, com um bar onde me sentei com meu amigo e ficamos conversando até que reparei numa fila e pensei: “Não é possível que essa fila toda seja pra mim”. E não é que era bicho? Ficou gente de fora. Impressionante. Não me pergunte como, mas todo mundo sabia todas as músicas.
O que mais elas pedem?
Dessa vez teve umas coisas inusitadas. Uma música que eu fiz, a Rosa Passos gravou e eu já nem sei mais tocar chamada “Paris – de Santos Dummont aos travestis”, minha e do Aldir; tem também “Toda hora” e “Cabô meu pai”, que o Zeca gravou, e, claro, “Saudades da Guanabara”. Tem sempre alguém que chora de saudade de saudades do Rio.
Por Jan Theophilo